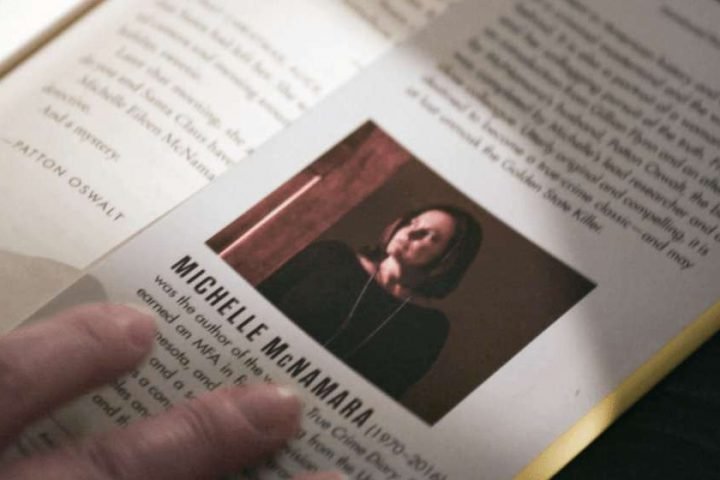Na cerimônia do dia 20 de setembro, “Watchmen” venceu o Emmy de melhor minissérie do ano. Apesar de populares, produções que envolvam super-heróis raramente recebem prêmios fora das categorias técnicas (“Pantera Negra”, por exemplo, foi indicado ao Oscar de melhor filme, mas só venceu como melhor trilha sonora original, figurino e direção de arte). O que torna “Watchmen” especial é como o gênero foi utilizado para tratar dos problemas raciais nos Estados Unidos – e “Lovecraft Country”, também da HBO, partilha da mesma estratégia.
Em minha resenha do filme “Enola Holmes”, comentei que uma perspectiva feminina do famoso personagem de Sir Arthur Conan Doyle é interessante porque Sherlock Holmes é misógino nos livros. Enquanto os fãs de Harry Potter estão aprendendo a lidar com a transfobia de J.K. Rowling, os fãs de terror já conhecem bem o racismo de H.P. Lovecraft, um dos autores mais influentes do gênero. Baseada no romance de Matt Ruff, “Lovecraft Country” mistura terror, ficção científica e fantasia para dar voz aos negros.
Com produção executiva de J.J. Abrams e Jordan Peele, a série é criada por Misha Green e se passa nos Estados Unidos, durante as leis de Jim Crow, que estabeleciam a segregação racial no sul do país. Na prática, o conjunto de leis nada mais era do que uma forma de manter a população negra em desvantagem econômica e social, após o fim da escravidão. Só o contexto histórico da série já renderia material suficiente para uma primeira temporada de apenas 10 episódios, mas “Lovecraft Country” é muito mais ambiciosa.
Logo no início, Atticus Freeman (Jonathan Majors) retorna da guerra na Coreia e descobre que o pai Montrose (Michael Kenneth Williams) está desaparecido. Junto do tio George (Courtney B. Vance) e da amiga Letitia Lewis (Jurnee Smollett), ele embarca numa viagem de carro para tentar encontrá-lo. No percurso, os três são perseguidos por bandos de racistas e, ao cair da noite, por monstros mais literais. No dia seguinte, eles se deparam com uma mansão misteriosa que abriga os segredos de uma sociedade secreta.
A primeira análise a ser feita é a de que, durante o período da segregação racial, ser um negro nos Estados Unidos era, de fato, como habitar um conto de terror – de muitas formas, o pesadelo perdura até os dias de hoje. Os monstros lovecraftianos funcionam como uma metáfora até bastante razoável de um ódio estrutural que mata e oprime. A série, contudo, vai além da temática do racismo. Seu verdadeiro objeto de estudo é o poder, como o poder se assemelha à mágica e como ele corrompe.
No quinto episódio, Ruby (Wunmi Mosaku), a irmã de Letitia, aprende de um jeito bastante peculiar que a mágica é uma forma de se fazer o quiser, sem encarar as consequências – e, assim, ela abusa de seu mais novo poder (ainda que a sua motivação seja, até certo ponto, justificada). Já no episódio seguinte, passado durante a guerra da Coreia, vemos que nem todo poder implica em impunidade, e que todos nós pagamos um preço pelos atos monstruosos que cometemos – até mesmo os “mocinhos” mais bem-intencionados.
No sétimo episódio, que foi ao ar no último domingo (27/09), “Lovecraft Country” colocou uma mulher negra e de meia idade como protagonista, e lhe deu a oportunidade de escolher quem ela gostaria de ser, livre de qualquer pressão social. Se aproximando da reta final, a série parece indagar “quem nós seríamos se tivéssemos o poder?” E a resposta não é simples, mas são muitos personagens, muitos enredos e muitas facetas para elaborar com o devido cuidado em tão pouco tempo.
Por mais que a premissa seja interessante, “Lovecraft Country” sofre com um ritmo frenético, que alterna universos a cada episódio, e não permite o tempo necessário para que as diversas reviravoltas causem algum impacto significativo na trama. Também por conta do passo acelerado, resta aos personagens explicar o que está acontecendo ao espectador por meio de um diálogo expositivo, o que às vezes empobrece a série. Infelizmente, falta em “Lovecraft Country” a coesão dos roteiros de “Watchmen”.